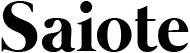
n.4 | ano 1 | mai 2022
reservado para a família
Gecy Belmonte
Dadá viveu cento e um anos. Nunca se casou, teve filhos, parentes ou amigos. Com menos de vinte anos foi herdada por minha avó de sua mãe e depois pela minha mãe, quando minha avó morreu. Viveu prosaicamente, não deu trabalho a ninguém, mantendo-se lúcida até a véspera do sábado em que não levantou cedo como costumava fazer. Minha mãe estranhou, bateu na porta do quarto e, não obtendo resposta, abriu. Dadá estava deitada sobre o lado esquerdo com a mão embaixo do rosto e, se não estivesse fria, minha mãe juraria que dormia. Partiu como um passarinho, como ela própria diria se o defunto fosse outro colhido na cama pela chamada morte por causas naturais.
Não lembro de tê-la visto doente ou acamada por alguma razão e foram raras as vezes em que tomou um remédio. Preferia as ervas que ela mesma cultivava e transformava em infusões guardadas em garrafas de vidro bem fechadas. Era ágil no seu pouco mais de um metro e meio recheado por uns quarenta e sete quilos. Tinha a pele escura e podia se deduzir que viera de uma miscigenação de negro e índio. Sabia ler e, com seu conhecimento rudimentar em matemática, ninguém lhe passava a perna nas contas.
Possuía uns olhinhos espertos, puxados nos cantos — escudados por sobrancelhas grossas —, que se infiltravam em qualquer fresta de pensamento que um de nós pretendesse esconder e foi a ela a quem contei, aos doze anos, sobre a minha primeira paixão no colégio Nossa Senhora das Graças, confiante no zelo com que ela mantinha meus segredos. Dadá falava baixo e se movia pelo sobrado da rua das Laranjeiras, onde ajudou a criar a mim, Leila, e a meus irmãos — Luísa, Larissa e Luís (minha mãe cismou em nomear os filhos começando por letra L) — como se fizesse parte do mobiliário. Era a primeira a acordar e estava sempre à cata de algo para limpar, consertar ou plantar no pátio que ligava com o vizinho da rua dos fundos.
Dadá era tão discreta que ninguém da casa se preocupava em discutir qualquer assunto na presença dela. Quando insistíamos em alguma coisa que nossos pais não queriam atender, apelávamos a ela que sempre tinha o argumento certo: deixem os meninos se divertir, é melhor que saiam com a autorização de vocês do que fugidos. Vocês nunca foram adolescentes? Dizia, encarando-os com firmeza. Não sei se por preguiça ou conveniência — era difícil manter sob controle quatro jovens no Rio de Janeiro —, eles acabavam concordando.
Seu único prazer, além de cuidar da pequena horta no quintal, era tomar cerveja. Em qualquer festejo de família lá estava ela, quase sempre com uma saia preta, uma blusa clara, um sapato baixo, o cabelo puxado para trás e preso em um coque rente à nuca. Não usava batom, gostava de brincos e jamais tirava uma argola pequena, de ouro, que ganhou de minha mãe em algum dos seus aniversários. Era devota de São Jorge e não descuidava dos lírios brancos ao pé da imagem de gesso que arrematara em uma quermesse no bairro. Detestava missa, mas rezava sempre. Algumas vezes a surpreendi de joelhos no tapetinho de sisal que mantinha ao lado da cama no quarto que ocupava aos fundos, colado na lavanderia. Deus não precisa de intermediários, dizia quando lhe perguntavam por que não frequentava a paróquia Cristo Redentor que ficava a três quadras da nossa casa.
Dias depois que Dadá morreu, minha mãe pediu que a ajudasse a organizar os seus pertences para doar o que fosse possível. No guarda-roupas de duas portas que ela mantinha organizado, havia algumas blusas, meia dúzia de saias, dois casacos de frio, quatro pares de sapatos, roupas íntimas, uma sombrinha verde, livros de reza, um crucifixo de cristal — que guardei comigo — e as roupas de cama.
Na parte alta do armário, em uma caixa de papelão pardo amarrada com um cordão amarelo, achei fotografias antigas e, em um envelope, uma certidão de nascimento: Doraci dos Santos Silva. Levei alguns segundos para entender que se tratava dela; a vida toda que passou na nossa casa foi chamada pelas duas consoantes entremeadas com as duas vogais. Na caligrafia escrita com caneta tinteiro, que ainda se mantinha azul sobre o papel vincado, constava o nome da mãe, Francisca dos Santos Silva, pai desconhecido. Olhei para minha mãe que, sentada na ponta da cama, dobrava as roupas e as colocava em uma sacola.
— Você sabia que ela se chamava Doraci? Que não conhecia o nome do pai? — perguntei.
— Sabia. Na única vez em que falou sobre isso, contou que nunca soube quem era porque a mãe morreu logo depois que ela nasceu — disse, com os olhos fixos em uma blusa azul que suspendia com as mãos para examinar melhor.
No pequeno quarto, cuja ventilação chegava pela basculante do banheiro, eu sentia seu cheiro, sabonete Phebo misturado com aroma de ervas. As últimas vezes em que estivera ali eu devia ter entre dez e doze anos e na minha memória infantil não parecia tão apertado, nem possuía uma fissura fina que começava no canto esquerdo do teto e se estendia até a altura da cama. Assistíamos à novela das seis, Anjo Mau, e sofríamos com as malvadezas de Nice, a babá sem escrúpulos encarnada pela Gloria Pires. Isto é, assistíamos dentro do possível, porque minha mãe — por ser hora próxima do jantar, ou ciúme — sempre achava um jeito de colocar Dadá na cozinha.
Enquanto mexia nos guardados de Dadá, seu rosto se impunha, como querendo romper a bruma que se criara entre a minha infância e os trinta e cinco que eu tinha agora. Retalhos de conversas surgiam. Uma vez, devia ter por volta dos quinze anos, perguntei por que nunca se casara. Demorou um pouco a responder, como se estivesse pensando no assunto pela primeira vez: Leila, mulher pobre, filha de chocadeira, só casa se for louca, disse e saiu com seu passo miúdo, encerrando o assunto sem que eu entendesse bem a que se referia.
Minha mãe acabara de separar as blusas. De costas para mim, mexia na gaveta de uma cômoda minúscula, de um branco encardido, exprimida entre o guarda-roupas e a parede.
— Olha o que achei! — falou satisfeita, sacudindo várias notas de cinquenta reais com a mão.
— De onde saiu isso? — eu disse, arregalando os olhos. Ela me mostrou uma agenda marrom, de capa dura que trazia o calendário com alguns anos de atraso. — Dadá recebia algum salário? — me ocorreu perguntar diante do dinheiro.
Minha mãe suspirou.
— Não, não havia necessidade, ela tinha tudo que precisava aqui em casa. Era econômica — disse, e guardou o maço de notas no bolso do casaco.
— Você vai ficar com o dinheiro? — questionei, olhando para ela.
— Claro, afinal sempre foi meu mesmo. Você tem alguma sugestão?
— Podia doar para a igreja.
— Para a igreja? Ela detestava os padres. Esqueceu disso?
— O que você fez com os brincos dela?
— Estão comigo.
— Afinal sempre foram seus, foi você quem deu… — falei, sem disfarçar o sarcasmo. Ela bufou e bateu o braço contra o meu ao se voltar para fechar a gaveta.
— Você gosta de complicar as coisas. Quem disse que não quero ficar com uma lembrança dela?
Achei melhor não prolongar a discussão. Sabia que não ia convencê-la, na semana anterior já havíamos nos desentendido sobre o enterro de Dadá. Reclamei porque ela comprou o caixão a mais barato sob o argumento de que era jogar dinheiro fora — vai apodrecer do mesmo jeito — e de que ainda teria que pagar a sepultura. A princípio pensei que Dadá seria enterrada no jazigo onde estavam meus bisavôs, avós e alguns tios, mas minha mãe disse que era reservado somente para a família.
Permanecemos quietas, as duas, e continuamos a organizar a pequena herança de Dadá, eu quase podia sentir sua presença contrariada com a invasão da privacidade. Queria acabar logo com aquilo. Era impossível obter mais informações sobre ela, alguém que se contentara em consumir a existência à sombra dos outros. Os que sabiam já haviam morrido há muito tempo.
Ao colocar a certidão de nascimento de volta na caixa peguei as fotografias para examinar melhor e separar as que me interessavam. Não eram muitas: ela com meus pais e nós quatro em um sítio em Teresópolis, que minha mãe herdara de meus avós, outras de alguns Natais em família. Em uma, com a imagem já meio fosca, minha bisavó Elza, sentada em uma cadeira à frente da porta principal da fazenda em Vassouras, estava ladeada por meu bisavô Honório. Chamou-me a atenção a estatura dele. Mesmo estando minha bisavó sentada, ele não devia medir mais que um metro e meio. Suas feições tinham traços indígenas, os olhos amendoados e puxados nos cantos pareciam fendas em sua pele escura.

Gecy Belmonte
Gecy Belmonte é jornalista, nasceu no Rio Grande do Sul, mora em São Paulo, é autora do livro de contos Talvez mais tarde, ou amanhã, pela editora Dublinense e tem contos publicados em antologias e blogs.


