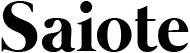
n.8 | ano 2 | jan e fev 2023
Sangue
Érico Ramos
Sentado na prancha, balanço os pés devagar. O movimento ajuda no equilíbrio. Sinto meu cabelo quente e seco e meu lábio arde um pouco pelo sal e pelas horas debaixo do sol. Será que volto pra casa agora? A mãe já deve ter almoçado e faz um bom tempo que não pego nenhuma onda. Pegar onda é modo de dizer. Faz um bom tempo que não me deito na prancha e remo como um condenado pra tentar pegar uma onda. Mas aos poucos vou ganhando jeito. Poderia ter evoluído um pouco mais, na real; não digo nem correr parede, meter umas manobras, mas eu poderia estar conseguindo ficar de pé mais que dois segundos. Já me daria por satisfeito.
Acho muito foda esses surfistas que dizem que o mais importante pra eles é a conexão com o mar, com a natureza, essa parada meio mística. Entendo o que eles tão falando. Eu acho. Viveria fácil num veleirinho, navegando de praia em praia pelo mundo, comendo peixe e caçando onda. Imagina passar um verão nas ilhas Fiji — ou muitos verões, quem sabe? Daí ir pra Indonésia ou pro Peru. Um dia estar num lugar e noutro partir pra onde der na telha, na hora que der na telha. Cheguei no pico, não gostei? Vrau, zarpei. Sem compromisso nenhum, sem ter agenda pra nada. Dormir à hora que quiser, comer à hora que quiser, tomar banho à hora que quiser e se quiser. Talvez eu casasse com uma havaiana ou uma tailandesa. Com uma brasileira ia ser meio complicado, em algum momento ela ia querer voltar pro Brasil e eu não ia querer. Pro Nordeste, pra Noronha, talvez, mas pro Rio Grande do Sul nem a pau. Não sei se iria casar.
Tem o lance da grana também. Se eu aprendesse a surfar, poderia ser profissional. Nem precisava ser top do mundo, ser famoso. Só ganhar patrocínios, dinheiro pra viajar. Tenho que aprender a surfar. Se eu surfasse pra caralho a minha vida estava resolvida. Se eu tivesse começado com sete anos hoje eu tava voando. Foda que só quem tem pais afudê começa a surfar aos sete anos e com treze já pode mandar os pais se fuderem e viver do surfe. Mas quem tem os pais afudê e começa a surfar aos sete anos não precisa mandar os pais se fuderem aos treze. E eu não precisaria nem estar voando agora. Se eu só pegasse umas ondas de vez em quando, já estava ótimo. No mínimo eu conseguiria ficar muito mais tempo aqui fora. Aguentaria muito mais tempo.
Eles falam que tudo é o mental. Surfistas top são sempre muito calmos e meditam. Tenho que ter paciência, igual os pescadores. A mãe reclama que eu não tenho paciência. Mas é ela que começa a gritar se eu esqueço de virar do avesso a porra de uma meia antes de colocar no cesto de roupa suja. Não fui eu que joguei um prato no chão porque não estava bem lavado. Não fui eu que criei a regra de não lhe dirigir a palavra antes de terminar o café da manhã. Tudo é o mental. Pegando ou não pegando onda, posso ficar muito tempo aqui se eu quiser. Eu tenho que aprender a pegar onda. Eu tenho que aprender a meditar. A mãe já deve ter lavado a louça.
A pele murcha debaixo dos meus pés faz o pedregulho da estradinha de terra doer um pouco no caminho de volta. A mãe alugou essa casinha a uns trezentos metros da praia. Tem mais doze casas num raio de, sei lá, quatro quilômetros. Ou pelo menos é o que consegui contar até onde minha vista alcança. Se eu quero sair pra comprar a porra de um picolé, tenho que encarar no mínimo meia hora de caminhada pra chegar no mercadinho que, pelo que se pode ler do que sobrou na parede descascada, antes funcionava como um bar chamado Deliriu’s. Quando li o nome pela primeira vez, senti brotar no coração uma esperança de encontrar ao menos uma máquina velha de pinball. Cheguei a enxergar a cena dentro da minha cabeça: o trambolho todo empoeirado, o Seu Deliriu’s ligando na tomada, as luzinhas amarelas piscando, os sons de videogame e a música de ação começando a tocar, Seu Deliriu’s passando um pano de prato encardido no vidro todo feliz de ver algum pirralho disposto a gastar toda sua mesada em ficha.
Mas não. Não tinha máquina nenhuma e a velhinha que atendia atrás do balcão não sabia onde eu poderia encontrar uma dessas máquinas “com uma TV e botões e uma alavanca”. E assim eu comecei a encarar uma hora de caminhada pelo picolé mesmo. Gelofix era a marca. Eu nunca tinha ouvido falar, mas tinha um de leite condensado que até era bem razoável. A velhinha não era muito de conversa, mas um dia ela perguntou se eu sabia jogar paciência e me ofereceu um baralho. Perguntei se tinha que ter muita paciência pra jogar e ela disse que era só o nome do jogo. Ficou de me ensinar no dia seguinte, mas eu não toquei mais no assunto e ela também não.
Quando cheguei em casa, como eu previa, a porta e as janelas da frente estavam fechadas, sinal de que a mãe já tinha matado duas caipirinhas enquanto preparava o almoço, tinha comido vendo TV e agora dormiria até a hora da novela. Nos fundos da casinha tem um “chuveiro”, um cano ligado ao encanamento que leva a água do poço até a caixa d’água com um registro de alavanca. A essa hora o banho no banheiro de dentro de casa é insuportável de tão quente. A água do poço é meio turva e deixa a pele com um pouco de cheiro de clara de ovo, mas pelo menos é mais fresca e corro menos risco de acordar a minha mãe. O jorro que cai do cano é meio forte e já abriu um buraco no gramado. Os donos da casa tinham tentado resolver o problema colocando no chão uma estrutura de madeira que parece um fundo de caixa de feira. Um entrelaçado de ripas com alguma largura mas de muito pouca espessura, sem nenhum acabamento. Mas o furo na grama continua ali e sempre tem um tanto de água acumulada.
Abro o registro, lavo a prancha, e quando piso nas madeirinhas pra me meter debaixo d’água, o troço escorrega uns trinta centímetros. Dou uns três passos pro lado, pego embalo, pulo nas madeirinhas e dessa vez a prancheta anda mais ou menos meio metro. Pronto. Inventei um sonrisal. Fico nessa mais um tempo. Espalho água mais pra longe e agora venho embalando desde o murinho do terreno. Penso se na beira do mar a pranchinha funcionaria do mesmo jeito. Minha mãe certamente já estaria enchendo o saco com a água ligada, se estivesse acordada, mas é de poço mãe, não interessa desliga essa merda. Jogo água até perto do varal e me encosto bem na mureta pra ganhar o máximo de impulso possível dentro do pátio. Ajudo a partida empurrando as mãos contra o muro, dou três passos largos e pulo mais de longe pra cair na prancha com mais peso. Já calculo que quando passar da coluna vou virar o quadril pra tentar uma manobra. Quando encosto o pé da frente na tabuinha sinto como se tivesse pulado sobre uma lona molhada cheia de sabão em pó. Perco o equilíbrio e enquanto o pé da frente levanta, meu tronco se inclina como se eu fosse deitar no ar. Tento manter o pé de trás em contato com o chão pra evitar a queda, só que ele também escorrega sobre toda a superfície do fundo da caixa de feira. No meio do caminho, surge um prego que até então não tinha se apresentado. Meu pé de trás, que agora sustenta todo o peso do meu corpo, desliza sobre a ponta do prego meio enferrujada e posso sentir a pele úmida, solta e enrugada pelas horas dentro do mar ficando pra trás, presa à ponta do prego, enquanto o resto da planta do pé segue em frente. A facilidade com que a pele se rasga me deixa um pouco impressionado. Acho que se eu deixasse uma folha de papel higiênico mergulhada num balde por cinco horas e depois tentasse puxar por uma ponta a resistência seria um pouco maior. Cogito que o corte tenha sido um pouco fundo, porque além da pele se esfacelando, pude sentir algumas fibras mais firmes se rompendo. Alguma coisa da carne deve ter sido atingida. Ter conseguido ficar em pé me deixa um pouco orgulhoso. Algum progresso, afinal. Antes de sentar pra examinar o estrago, pude ver o sangue se misturando à água empoçada no gramado. Levanto a sola do pé na direção do rosto, mas não consigo ver nada além de muito sangue, pedaços de grama, terra e pele retorcida. Tento lavar a sangueira, mas no instante que tiro o pé debaixo d’água brota muito vermelho e não consigo saber o tamanho do rasgo.
Preciso estancar essa merda. Certo que vou ter que levar ponto. Onde será que fica o postinho nesse buraco. Que merda que não trouxe a minha bicicleta. Se eu sujar esse pano de sangue a minha mãe vai me matar. Vou pulando num pé só até a frente da casa. Lá consigo me sentar e olhar melhor. Me lembro da porra do chuveiro e volto pra fechar o registro. Aproveito e pego o pano. Foda-se. Depois eu queimo e digo pra mãe que deve ter voado. Me sento na rede pendurada entre as colunas que seguram o teto da varanda. Tento me ajeitar e sujo a rede de sangue. Merda! Agora me fudi. Pulo da rede e tento chupar o sangue impregnado no tecido. Deu uma melhorada. Ela não vai notar. Parece só sujeira.
Sento no chão, na beiradinha das lajotas e ouço a kombi dos doces se aproximando. Sonho, puxa-puxa, rapadura de cana e de doce de leite, rosquinha de polvilho, mel, olha o sonho de santo antônio da patrulha. Começo a acenar para pedir silêncio. Abaixa essa porra, não vai acordar a mãe agora, caralho. O cara para a kombi exatamente na frente da casa. Rapadura de cana e de doce de leite, rosquinha de polvilho, mel. Ainda grita. Puxa-puxa, guri? A mãe tá em casa? Tá e vai te matar, filha da puta. Começo a balançar as mãos e a gritar sem sair o som da minha voz. Vai embora! Vai-em-bo-ra! Filho da puta aponta pro ouvido e grita que não tá ouvindo. Junto as mãos, deito minha cabeça de lado sobre elas com os olhos fechados e aponto pra janela. Ah!, fala mudo o infeliz. Des-cul-pa, gesticula com a boca. Mas só entra na kombi e arranca sem nem diminuir o som. Rosquinha de polvilho, mel. O pano já está empapado de sangue, mas quando paro de pressionar o sangue volta a correr. Agora mais fraco e em algumas partes começam a se formar cascas secas. Não há mais dúvida de que precisa costurar. O ideal seria passar agora alguma coisa pra não infeccionar, mas antes de parar de pingar não me atrevo a entrar em casa. O jeito é esperar. Uma hora vai parar. Paciência. Enrolo o pano no pé e dou um nó, encosto a cabeça na coluna e vejo a kombi dobrando a estradinha no fim da rua. Rapadura de cana e de doce de leite, sonho de santo antônio da patrulha, sonho.
Quando a kombi desaparece na curvinha da estrada me vem o estalo. Merda! Por que eu não pedi carona pro filha da puta. Com certeza ele me levaria até o posto. Com certeza ele deve estar indo pro centrinho. Não seria nenhum transtorno me deixar no postinho. Eu resolveria o problema antes mesmo da mãe saber da existência dele. Não é isso que ela pede? Trazer soluções, não problemas. Pois toma tua solução, velha. Rateei, verdade, mas quem podia imaginar que os idiotas tinham deixado a porra de uma ponta de um prego pra fora de uma madeira que as pessoas usam pra pisar, na melhor das hipóteses, de chinelos? Ela não precisa nem saber que eu tava fazendo a tabuinha de sonrisal. Escorreguei e pronto. Acontece, pô. Podia ter sido ela. Os donos dessa casa que são uns idiotas. É isso. Resolvido. Ou pelo menos estaria se eu não fosse um imbecil e tivesse deixado a kombi ir embora. Por que eu não trouxe a minha bicicleta, caralho. Por que a minha mãe não pode ter um carro maior?
O carro. Não. Deixa de ser burro. Azar, daqui a pouco ela acorda, tu diz que se cortou e foda-se, uma mijada a mais, uma a menos. Ela te leva no posto, tu leva um uns beliscões, talvez um castigo, e é isso. É da vida. Mas e se ela não acordar. Recém passou da hora do almoço. Em duas horas está pelada a coruja. Não vai nem ter terminado a sessão da tarde. Quando ela acordar pra novela o motor do carro já vai estar até frio. E tu diz que a kombi do sonho te levou e te trouxe de volta. Beliscão é o caralho. Beliscão já morreu.
O sangue já não escorre mais em tanta quantidade, limpando bem e trocando o pano, eu posso entrar pra pegar a chave do carro na bolsa da mãe. Embolo bem o pano ensopado e atiro no terreno baldio do lado da casa. Dou a volta por trás, cato outro pano, pego a chave da porta embaixo do tapete e vou em busca da bolsa. Surrupio a chave do carro, pego a identidade e uma camiseta no meu quarto. Já do lado de fora me dou conta que não cuidei pra ver se tinha pingado sangue no chão. Volto, examino por onde acho que andei, sigo o plano. Agora é o tempo que pode me fuder.
Apertar a embreagem dói bem mais do que eu imaginava. Devia ter pego uma toalha pra não sujar o banco, minha bermuda ainda tá úmida. Forro o banco com a camiseta e ligo o carro. Dou um tempo pra ter certeza que a mãe não vai aparecer. Não sei quantos minutos passaram, mas se ela tivesse acordado com certeza já estaria gritando na porta. A ré é pra baixo e pra frente ou pra baixo e pra trás? Tenho que corrigir a direção três vezes pra conseguir passar pelo portão. As janelas ainda estão fechadas. Ela vai me matar. Puta que pariu. Agora a casa já ficou pra trás. Agora só posso voltar com o pé costurado. Tá doendo pra caralho. Será que rola ir até o posto sem trocar de marcha? Sigo em terceira um bom tempo pela estradinha de terra. Já consigo enxergar as casinhas e as lojas que têm na beira da faixa. A estradinha, quando encontra a avenida, forma uma lombinha, a faixa de asfalto é num nível acima. Tomara que não esteja passando carro nenhum.
Conforme vou me aproximando do entroncamento vejo muitos carros cruzando de um lado pro outro. Não adianta. Vou ter que parar. Piso no freio e me esqueço do pé da embreagem. O carro dá alguns solavancos e o motor morre. Ao tirar a mão do volante pra dar de novo a ignição, percebo que estou agarrando a direção com muita força. Minhas mãos estão encharcadas. Olho pro meu pé e já há marcas de sangue no tapete. Merda! Como eu vou limpar isso? Um carro atrás de mim dá uma buzinada. Passa por cima, porra! Tento arrancar e as rodas derrapam no pedregulho. O cara de trás enfia a mão na buzina. Abro a janela e faço sinal pra ele passar. O carro passa levantando poeira e entra rápido na avenida. Não deve ser tão difícil. Solto o pé sem querer da embreagem e o carro morre de novo. Está doendo muito e minha perna começa a tremer. Me concentro nas ilhas Fiji, no peixe assado nas folhas de bananeira e depois de uma dezena de tentativas consigo controlar o carro sem apagar. Não tiro mais o pé do acelerador e fico controlando só na embreagem, solto devagarinho e o carro vai um pouco pra frente, piso de leve novamente e o carro vai um pouco pra trás. Sinto o sangue escorrendo pelo calcanhar. Olho pra um lado e pra outro e não param de vir carros e motos e ônibus e bicicletas. Uns três carros pararam atrás de mim, buzinaram, passaram por mim levantando poeira e me xingando. Parece que agora vai dar. Um ônibus atravessou a pista um pouco mais abaixo na estrada e os carros diminuíram a velocidade. É agora. Já estou há muito tempo aqui. Já deve estar começando o Vale a pena ver de novo. O ônibus já entrou na pista, é agora ou nunca. Piso firme no acelerador e controlo como dá o pedal da embreagem. O carro dá uma derrapada, mas pega tração e entra na pista aos solavancos. Minhas mãos escorregam no volante, mas consigo com alguma dificuldade colocar o carro no lado certo da pista. Vamo, caralho! Big waves! Big Rider! Uma lata de cerveja quase vazia que a mãe deixou no painel desliza pro banco do carona, derrama um restinho e rola pra perto da porta. Estico a mão pra pegar e, como não acho, olho pro lado, a latinha caiu no chão, me abaixo pra pegar a porra da lata. O carro começa a tremer e ao erguer a cabeça vejo que invadi o acostamento, onde uma menininha pedala uma bicicletinha com um cesto na frente. Puxo a direção com força pra voltar pra pista mas ao retomar o contato com o asfalto o carro dá uma guinada no sentido oposto, invadindo a contramão, onde bem naquele momento passava um caminhão de caçamba aberta carregado de tijolo.
Tem um monte de gente me olhando e tudo que eu quero é sair dali. A novela já deve ter começado e a mãe deve ter acordado e deve estar preocupada. A direção está bem perto do meu queixo e tenho bastante dificuldade de entender onde foi parar a chave pra poder dar partida no carro. Tento me virar pra procurar, mas não tem como me mexer, parece que estão me segurando. Me engasgo com minha própria saliva, do nada sai da minha boca uma cusparada de sangue. Até vomito um pouco de sangue. Minha mãe vai me matar. Como o sangue do meu pé veio parar na minha boca? Ouço o som do mar. Atrás das pessoas vejo passando um veleiro. Rapadura de cana e de doce de leite. Mel. Sonho de santo antônio da patrulha. Sonho.

Érico Ramos
Foto: arquivo pessoal
Nasci em Porto Alegre em 1978, mas já andei um bocado por aí e fiz uma porção de coisas, inclusive filhos. Sou Jornalista de formação, trabalho com Comunicação Social no Setor Público, já fui ator, professor de inglês, garçom. Adoro histórias. Quero aprender a escrevê-las.


